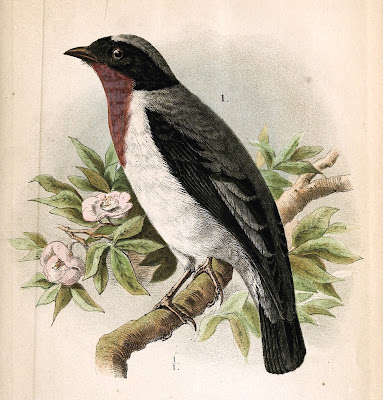Arthur Soffiati
Recebo hoje a informação de que o outubro de 2021, em Belo Horizonte, foi o oitavo mais chuvoso desde 1910, quando os registros pluviométricos começaram a ser feitos. A imprensa deveria saber passar esse tipo de informação num tempo de mudanças climáticas extremas. Em vez de escrever que as chuvas de 2021 foram as oitavas mais intensas desde 1910, dever-se-ia escrever que elas são as oitavas mais intensa desde que começaram as medições, pois, do contrário, o leitor pensa que houve chuvas mais fortes em 1910 e antes. O outubro mais chuvoso em Belo Horizonte, até o momento, foi o de 2009. No norte fluminense, sobretudo na bacia do Ururaí, as chuvas foram destruidoras na segunda quinzena de novembro desse ano. As mais intensas de que tenho conhecimento nessa pequena e curiosa bacia. Escreveremos sobre essa catástrofe em novembro.
O segundo mês de outubro mais chuvoso em Belo Horizonte foi o de 1965. Em seguida o de 1995. Daí em diante o de 1964, o de 1922, o de 1912 e o de 2010. No passado, as chuvas e estiagens permitiam previsibilidade. Hoje, não permitem mais. Devemos lembrar que outubro ainda não terminou. No princípio de 2020, as chuvas em Belo Horizonte, na Zona da Mata e no norte-noroeste fluminense foram destruidoras. Em Belô, o rio Arrudas transbordou várias vezes e arrasou a cidade. Não foi o único. Já se mostrou que as enchentes em Belo Horizonte devem ser creditadas aos rios que foram cercados e tapados pela cidade. E notemos que as chuvas de outubro de 2021, não causaram estragos na cidade. Por que? Porque foram bem distribuídas ao longo de 20 dias. O mesmo pode ser observado em relação ao norte-noroeste fluminense. Acredito que, do ponto de vista quantitativo, choveu muito aqui também. Mas a chuva ocorreu de forma borrifada e distribuída ao longo do mês. O que acontecerá nos próximos dez dias, só Deus sabe. Até o final de 2021, não é possível prever com segurança. Há fortes indícios de intensas chuvas destruidoras que devem entrar em 2022.
Muitos torcem para que as chuvas cheguem e terminem a crise hídrica, baixando a conta de energia hidrelétrica. Mas elas podem resolver um problema e causar outros. Dou outro lado do mundo, ontem e hoje, chuvas catastróficas estão arrasando a Índia e o Nepal. Quase 200 pessoas morreram na Índia e no Nepal ontem e hoje. É cedo para fazer um balanço dos estragos. Mais mortos devem aparece, assim como muitos prejuízos materiais. Essa é a forma de ataque das mudanças climáticas: ocorrem aqui e acolá. Aqui, a imprensa noticia. Lá, nem o jornal de Macau, China, publicado em português, deu notícia. Num mundo globalizado e ameaçado por problemas ambientais, entendo que a imprensa deve cuidar de notícias locais, futilidade etc. Mas promover também artigos de análise e notícias sobre o acontece no globo. Bastaria meia pagina.